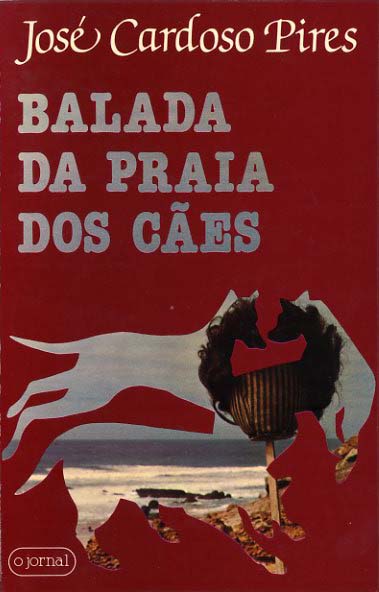Ph. P. — É também a paródia da emancipação política. Na sua opinião, o capitalismo será esse «monstro frio» de que falava Simone Weil a propósito do Estado?
J. B. — É um monstro que inverte os dados da libertação social: é o capital que se emancipa dos trabalhadores! São os pais que se libertam dos filhos! É o fim do complexo de Édipo, o fim da luta de classes, à sombra dos quais tudo funcionava tão bem. Todos os movimentos se invertem. Só se falava de liberdade, de emancipação, de transformar a fatalidade no máximo possível de liberdade. Apercebemo-nos hoje de que a onda libertadora não é mais do que a melhor forma de oferecer aos escravos o fantasma do poder e da liberdade.
É uma interacção forçada: a partir de agora a massa intervém directamente nos acontecimentos através dos Audimat e de outros modems interpostos. A massa tornou-se interactiva! Nas sondagens, somos todos implicados estatisticamente: a cumplicidade forçada. De qualquer modo, e sem o querermos, há muito que somos interactivos em todas as áreas, através de todos os sistemas de respostas automáticas aos quais estamos escravizados. E a interactividade que nos propõem nunca igualará aquela que nós já suportamos — a interpassividade colectiva que a outra põe em funcionamento apenas através das técnicas de informação e de comunicação.
Daí que, na esfera interactiva, se assista à impossibilidade de colocar o problema da liberdade e da responsabilidade. As pessoas quase se espantam por terem filhos (alguma vez as crianças se espantam por terem pais?) e espantam-se por serem responsáveis por eles, como por muitas outras coisas. Espantam-se por terem de tomar conta da sua própria vida. Já não possuem convicções, já não estão persuadidos de nada. Espantam-se por terem um corpo. Nada disto conserva um verdadeiro fundamento. Nada se impõe já como valor ao imaginário nem à consciência, nem sequer como fantasma ao inconsciente. Neste contexto, qualquer responsabilidade ou atribuição de responsabilidade revela-se surrealista. As pessoas bem poderiam espantar-se por terem de procurar trabalho, por serem os instrumentos de ligação de uma quantidade de redes insignificantes, os actores involuntários de uma comédia geral interactiva, o alvo de exigências e de perguntas das quais são apenas os respondedores automáticos.
Ph. P. — Será que eles se espantam, ao menos, por viverem em surda cumplicidade com os poderes?
J. B. — Nem isso, porque são cúmplices de um poder que, a falar verdade, já não existe, o que é pior ainda. De um poder que é investido e desinvestido ao mesmo tempo por toda a gente, como se fosse um palco giratório ou uma geometria variável de soma nula. Toda a gente se permite a comédia do poder (como a de tantas outras coisas, de resto: do social ou da cultura). Mas mantenho a esperança de que exista aí um jogo duplo, individual e colectivo. Seria necessário poder não herdar, desconectar a situação, quebrar o encadeamento consensual. Mas não podemos de forma alguma alimentar ilusões sobre a tomada de consciência nem sobre o encadeamento da revolta. Numa História in progress, provoca-se um acontecimento se se antecipar ou criar condições de evolução mais rápidas, ou seja, um diferencial explosivo. Numa curva involutiva como a nossa, contribui-se para a involução ao tentar acelerar ou corrigir o sistema. Estamos presos na armadilha, na escrita automática dos sistema. Mas existem formas inconscientes de convulsão social e de revolta latente contra esta participação forçada.
Jean Baudrillard, O paroxista indiferente. Conversas com Philippe Petit